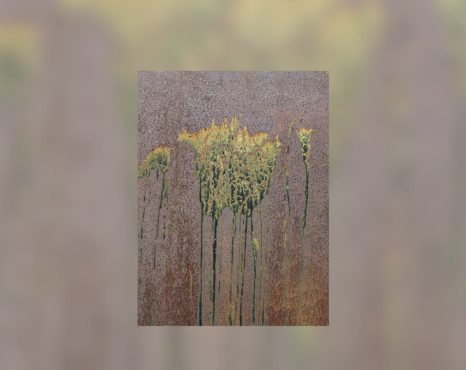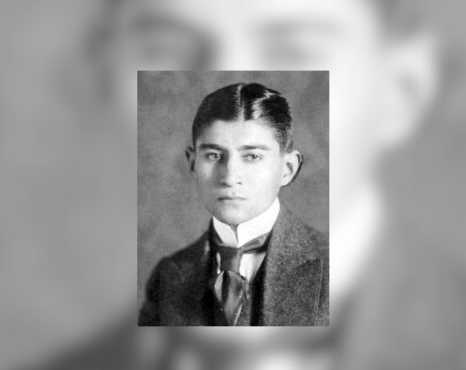Klein, ainda: uma entrevista com Elisa Maria de Ulhôa Cintra
Home Blog Melanie Klein Klein, ainda: uma entrevista com Elisa Maria de Ulhôa CintraNeste ano de 2025, a Ubu Editora está prestes a completar seu relançamento das obras completas de Melanie Klein. Além disso, a professora da PUC-SP, Elisa Maria de Ulhôa Cintra, especialista na obra dessa autora, acaba de relançar, em edição revista e ampliada, seu livro Melanie Klein: Estilo e Pensamento (em coautoria com Luís Cláudio Figueiredo; Editora Escuta, 5ª edição, 2025), um trabalho desenhado para introduzir alunos e novos leitores ao pensamento kleiniano. Diante disso, o blog da SBPSP convidou a professora Elisa Cintra para uma entrevista.
Blog da SBPSP: Segundo sua apreciação, qual é a novidade introduzida por Melanie Klein no pensamento psicanalítico?
Pensei em começar com um traço criativo do pensamento kleiniano ao qual ela deu muita ênfase: se a gente não transformar a dor, a nossa raiva e a nossa fúria narcísica, vamos sempre transmiti-las a alguém, de uma forma ou outra, contribuindo, ainda que de forma infinitesimal, para a violência do mundo. A transformação da raiva e da fúria narcísica é o principal trabalho de qualquer análise e é um dos caminhos que pode reduzir uma pequena parcela dessa agressividade sem contornos. Isso não quer dizer que grandes transformações políticas, econômicas e sociais não tenham que acontecer. É que transformações em todos os níveis são agora necessárias, do micro ao macro.
Precisamos criar espaços analíticos nos quais a dor e a fúria possam se transformar por meio da oferta de escuta, compaixão e palavras justas. Lembrei-me de uma vinheta clínica que me impressionou: a paciente hesitava se ia ou não começar sua análise. As dúvidas eram muitas. Por acaso ela conhecia a obra de Guimarães Rosa. Lembrava-se da jornada de Grande Sertão: Veredas, um relato épico de violência, guerra e amor. Então ela disse: “está bem, me decidi: está na hora de entrar no sertão!”. Ela se decidira a entrar no Grande Sertão e em suas Veredas, que a atraíam e ameaçavam. Nunca mais esqueci. Há momentos muito suaves de um processo analítico, mas há, de fato, uma grande travessia pelas veredas violentas dos sertões internos. É uma metáfora muito precisa. Precisamos sempre voltar a Guimarães Rosa!
Penso que Klein foi a primeira grande transformadora do espaço analítico com base no atendimento às crianças. As crianças a ajudaram muito nisso. E Ferenczi, seu primeiro analista, foi decisivo para lhe dar o impulso nessa direção. Tudo que veio depois dela, e que é frequentemente elogiado e considerado como a grande reviravolta na forma dos analistas contemporâneos se colocarem no espaço analítico, começou com o seu trabalho e com o seu pensamento, e antes dela com Ferenczi.
Onde antes havia uma separação muito hierárquica entre o psicanalista e o paciente, Klein de repente se vê colocada em contato direto com o seu não saber, quando precisou se colocar diante de uma criança em sofrimento. Naquele momento, praticamente ninguém tinha conduzido uma análise infantil. Ela lançou-se ao desafio. Foi obrigada a ter uma postura muito mais receptiva do que interpretativa: deixando-se penetrar pelo campo de afetos caóticos, e fundamentalmente tendo a coragem de não saber. Aos poucos foi desenvolvendo um estilo muito interpretativo e muito cheio de saber. Foi a época em que, muitas vezes, ao invés de coragem de não saber, ela caiu no medo de não saber.
Parece que estamos sempre oscilando entre o medo de não saber e a necessidade de não saber, que impulsiona em direção ao que ainda não foi explorado. No início, ela jogou-se no desconhecido, na experiência radical de não saber. Uma criança em sofrimento não sabe dizer o que se passa com ela e isso a torna muito violenta ou muito apassivada. Ela encontra-se em uma espécie de mutismo mágico, sem nenhum intérprete que a possa socorrer.
Foi nesse momento que ela se deu conta de que o setting analítico exige a presença de dois sujeitos do inconsciente, muito mais receptivos um ao outro; diferentes, mas semelhantes em seu desamparo originário e no sentido de que precisam colocar toda a sua subjetividade inconsciente e consciente em contato vivo com o outro. Quem mais a incentivou foi Ferenczi, de certa forma Abraham e, acima de tudo, as crianças que começou a atender. A profunda transformação do espaço analítico começa com esses três discípulos da psicanálise – Ferenczi, Abraham e Klein – e vai se desdobrando em infinitas formas desde então.
Por intermédio de Melanie Klein, descobrimos que o setting analítico tem uma força de atração (Pontalis) indescritível que traz tudo para dentro de si: afetos, memórias, angústias, fúrias defesas. Quanto à pergunta que vocês me fizeram, podemos então afirmar que a maior contribuição de Melanie Klein foi a revolução do setting analítico, ou pelo menos o início dessa.
Blog da SBPSP: Por vezes se fala na “virada intersubjetiva” da psicanálise contemporânea. Hoje em dia, é concedida uma importância maior ao ambiente e ao objeto externo na constituição da subjetividade. Com isso, modelos considerados mais intrapsíquicos (e.g. Freud, Klein), tiveram que passar por reformulações. Costuma-se criticar o modelo kleiniano por ser demasiadamente intrapsíquico… Como você vê isso?
Acredito que seria mais correto dizer que se trata de uma questão de ênfase. Há uma ênfase em Freud e Klein na dimensão intrapsíquica, mas nem Freud nem Klein se recusariam ou se recusaram a admitir uma enorme influência do ambiente na constituição psíquica. Então eu falaria mesmo em “ênfase”: há uma ênfase no intrapsíquico em Freud e Klein, e há uma ênfase no intersubjetivo em Winnicott, Ogden, Bollas etc. Mas, na verdade, nenhum psicanalista astuto trabalharia exclusivamente com a ideia do intrapsíquico ou exclusivamente com a ideia do intersubjetivo.
Ao longo dos primeiros quinze anos de trabalho, Klein foi percebendo a importância da linguagem da ternura e a demanda de amor e de segurança, entrelaçadas à violência pulsional. Reconheceu a importância do predomínio do amor para se entrar na posição depressiva e em suas futuras transformações. A travessia do Grande Sertão é esta saga dos gritos e da fúria em direção às palavras, à aceitação da transitoriedade e da morte, vencendo a compulsão de exercer poder, controle e domínio sobre o tempo e sobre o mundo exterior. Depois da ambivalência, alcança-se algum sossego por meio da integração de ódios e amores; depois das ambiguidades e confusões, encontra-se algum alívio através das diferenciações e discriminações. Guimarães Rosa já dizia: “Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura”.
Ou seja, Klein mergulhou mais profundamente no primado do afeto compartilhado na vida e na sessão analítica – essa é a dimensão intersubjetiva de seu pensamento. Logo percebeu que, na cena analítica, o importante são os afetos compartilhados entre analista e paciente, onde convivem e se entrelaçam as linguagens da paixão e da ternura. Quando os afetos podem ser reconhecidos e vividos, isso leva a uma transformação do espaço analítico. Aí estão dois sujeitos do inconsciente em posições diferentes, mas que podem começar a ser pensados de forma diferente do que Freud havia pensado. São dois sujeitos que precisam poder dizer sim e não um ao outro, concordar e discordar, resistir e atravessar as resistências. E, gradualmente, sustentar a tensão de serem diferentes e semelhantes.
Sendo mulher, acho que o reconhecimento dos afetos foi mais fácil para Melanie Klein do que para Freud. Às vezes, parece que Freud sentia medo de entrar em contato com as emoções mais avassaladoras e as transferências simbióticas, e de certa forma confessa isso a nós, ao falar do sentimento oceânico, no Mal-estar na Cultura. Temor da força enigmática que brota do Id e das pulsões. Em certos momentos históricos, os homens tiveram mais dificuldade de entrar em contato com a força das pulsões e da realidade psíquica sensorial com suas demandas insaciáveis e impiedosas.
Se vocês me perguntassem: então, o que há de novo se compararmos a escuta de Freud e a de Klein? Imaginemos uma resposta dela:
“Comecei a brincar com as crianças e com as palavras muito sem cerimônia. Sentei-me no chão com elas, saí do céu das ideias e me aproximei de novo do chão, do chão afetivo e corporal que é a raiz das ideias e das palavras. Tinha mais liberdade de me atirar ao desconhecido, pois era mais ignorante que todos aqueles homens e tinha menos medo de errar. Eu não tinha nada a perder. Gostava muito de Freud, Ferenczi e Abraham, mas senti imenso prazer em discordar deles e reconstruí-los do meu jeito. Muitos praticantes da psicanálise ficavam paralisados diante do gênio de Freud. Será que era o que ele queria, toda essa adoração? Queria e não queria… Acho que ele queria muito interlocutores que tivessem a coragem de fazer o que fiz. Acredito que a psicanálise exige esse movimento incessante de voltar a Freud e afastar-se dele para encontrar novos caminhos. Experimentar a violência de nossas pulsões e, de certa forma, aprender a pilotar as pulsões em direção a novas paragens. Os pacientes estão pedindo isso de nós. Precisamos despertar a nossa paixão pela pesquisa, o nosso desejo de querer entender, de querer compreender mais. É essa atitude ética que pode desenvolver a nossa intuição, a nossa capacidade de observação, e de nos deixar penetrar pelas correntes afetivas que circulam na sala de análise. Precisamos aprender a não ter medo de não saber, a portar o nosso saber e o nosso não saber como bagagens leves, como pressupostos de todo ato de conhecimento”.
Blog da SBPSP: No seu ensaio “Ogden leitor de Klein: entender Klein para transcendê-la” (In: Por que Ogden?, Zagodoni 2023, em coautoria com Janderson Ramos), você assinala muito daquilo que ainda palpita do pensamento kleiniano na psicanálise contemporânea. Você poderia falar mais sobre isso?
Essa ideia de Ogden, de que para entender Klein é preciso transcendê-la, é um princípio necessário a toda leitura criativa. Os insights de Bion, Winnicott, Balint, Bollas, Ogden, Ferro e outros leitores contemporâneos ajudam a descobrir as sementes de novos pensamentos que estavam ocultos em uma obra seminal, como é a de Klein. Uma obra capaz de gerar novos pensamentos e novos pensadores. É preciso transcender o seu pensamento, conservando o seu espírito de pesquisadora ágil e criativa. Não devemos repetir Klein, mas reinventá-la.
Aqui quero citar algumas palavras de autores que nos contam acerca de suas impressões ao ler Melanie Klein:
Victor Smirnoff, um psicanalista francês, conta o impacto sentido ao ler a descrição das fantasias infantis sádicas e violentas. Na verdade, tais fantasias revelam a dimensão de onipotência, raiva, desespero, desamparo e abandono sentidos pelas crianças:
“Smirnoff considera que, depois de Ferenczi, foi Klein quem mais sensibilizou os analistas para a presença da criança no adulto (do infantil no psiquismo, nós diríamos): ‘dando palavra a essa criança que nós mimamos ou perseguimos’, mas com quem precisamos desesperadamente entrar em contato, não só como reserva vital, mas como fundamento do nosso idioma mais arcaico, precioso recurso contratransferencial que pode ser colocado a serviço dos pacientes”. (Cintra & Figueiredo, 2025).
É interessante notar que, ou somos excessivamente condescendentes com o infantil em nós, ou excessivamente severos com ele. Smirnoff afirma que é preciso “dar palavra” a essa criança; concordo, mas antes de “dar palavra”, é preciso “dar escuta” ao desamparo e ao abandono dessa criança e desse infantil.
Já Júlia Kristeva reconhece que Klein se dedicou ao trabalho de “refazer as fronteiras entre a normalidade e a patologia”. Pensando em Klein, ela afirma que não devemos ignorar a loucura: “…a loucura é para ser dita, escrita, pensada: assombroso limite, interminável estímulo da criatividade”. (J. Kristeva, O Gênio Feminino: Tomo II: Melanie Klein, p. 15). Kristeva lembra que Klein está sempre se perguntando em que condições as angústias se tornam simbolizáveis? Melanie Klein tinha uma grande capacidade de captar a angústia: tanto nela própria quanto em seus pacientes, e sabia que era preciso conviver com a angústia simbolizada. Da mesma forma que Freud, descobriu que nossos sonhos são nossa loucura privada, que não adianta negar a doença; então é necessário conhecer melhor nossa inquietante estranheza. E, finalmente, que a posição depressiva é indispensável para adquirir a linguagem.
Elisa Maria de Ulhôa Cintra é psicanalista, professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC e uma renomada pesquisadora da obra de Melanie Klein. Em 2018, junto com Marina F. R. Ribeiro (USP), publicou o livro Por que Klein? (Zagodoni Editora). No ano seguinte, também junto a Marina F. Ribeiro, organizou a coletânea Melanie Klein na Psicanálise Contemporânea (Zagodoni, 2019). Neste ano de 2025, acaba de relançar, em edição revista e ampliada, a quinta edição do livro Melanie Klein: estilo e pensamento, escrito junto com Luís Cláudio Figueiredo (Editora Escuta, 5ª edição, 2025).
A Livraria Pulsional está oferecendo um desconto de 20% para a compra do livro de Elisa Maria de Ulhôa Cintra, Melanie Klein: estilo e pensamento (Editora Escuta, 5ª edição, 2025), clique aqui para adquirir seu exemplar.
As opiniões dos textos publicados no Blog da SBPSP são de responsabilidade exclusiva dos autores.